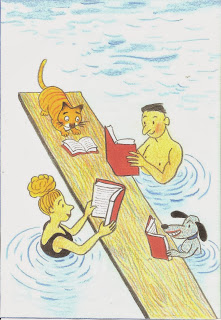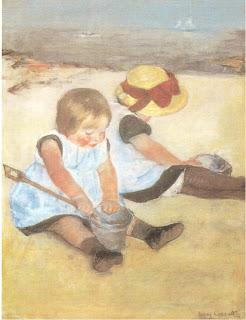O REGRESSO DA VELHA SENHORA
 Um pequeno grupo
de estudantes católicos decidiu, a 18 de Março de 1901, criar, em Coimbra, um
Centro Académico que servisse para formar quadrado e cerrar fileiras, em defesa
dos princípios e valores da fé que professavam, face ao anticlericalismo do
governo de Hintze Ribeiro, liberal e intolerante, que então atacava as ordens
religiosas e ao próprio ambiente universitário, igualmente intolerante,
laicista e maçónico. Teve como principal impulsionador o Dr. António Francisco
Cordeiro, ao tempo aluno da Faculdade de Direito, e cuja firmeza, serenidade e
coerência ficaram para sempre como exemplo a seguir. A criação do Centro passou
por várias fases, tendo sido registado – a 17 de Abril de 1901 – com o nome de
Centro Per Crucem ad Lucem – e, mais tarde – a 18 de Janeiro de 1903 -,
como Centro Nacional Académico, para – a 20 de Janeiro de 1905 – se fixar no
nome definitivo, de acordo com a recente Doutrina Social da Igreja: Centro
Académico de Democracia Cristã (C.A.D.C.).
Um pequeno grupo
de estudantes católicos decidiu, a 18 de Março de 1901, criar, em Coimbra, um
Centro Académico que servisse para formar quadrado e cerrar fileiras, em defesa
dos princípios e valores da fé que professavam, face ao anticlericalismo do
governo de Hintze Ribeiro, liberal e intolerante, que então atacava as ordens
religiosas e ao próprio ambiente universitário, igualmente intolerante,
laicista e maçónico. Teve como principal impulsionador o Dr. António Francisco
Cordeiro, ao tempo aluno da Faculdade de Direito, e cuja firmeza, serenidade e
coerência ficaram para sempre como exemplo a seguir. A criação do Centro passou
por várias fases, tendo sido registado – a 17 de Abril de 1901 – com o nome de
Centro Per Crucem ad Lucem – e, mais tarde – a 18 de Janeiro de 1903 -,
como Centro Nacional Académico, para – a 20 de Janeiro de 1905 – se fixar no
nome definitivo, de acordo com a recente Doutrina Social da Igreja: Centro
Académico de Democracia Cristã (C.A.D.C.).
Como disse um dos
seus primeiros e mais marcantes presidentes, o Dr. Alberto Dinis da Fonseca: Se 18 de Março de 1901 foi a data do nascimento
– 18 de Janeiro de 1903, a data do seu Baptismo, assim como 20 de
Janeiro de 1905 é a data da sua Confirmação.
Mas com a
implantação da República em 1910, o C.A.D.C. vê a sua sede saqueada e
encerrada. Só reabre dois anos depois, iniciando-se nessa data a publicação do
jornal O Imparcial que durou até 1919. Em 1922 sai o primeiro número da
revista Estudos que se publica, sem qualquer interrupção, até 1970.
Tinha – tem – o C.A.D.C.
um programa ambicioso. Disse-o o Doutor Gonçalves Cerejeira numa das suas
famosas Cartas aos Novos publicada no nº 45 da revista Estudos e
mais tarde reunidas em volume autónomo: O
programa da vossa casa (a casa-mãe dos novos capitães de Deus) resume-se em
três palavras: piedade, estudo e acção – e uma vida
inteira a pô-lo em prática não chega para o realizar plenamente. Três simples
palavras, cujo significado total não se pode esgotar numa vida mortal.
Mas este programa entusiasmou gerações do século
passado e fez do C.A.D.C. e da revista Estudos um excepcional pólo de
irradiação da cultura católica, com projecção nacional e internacional. O
extraordinário número e a elevada qualidade de permutas que a revista tinha com
jornais e revistas nacionais e estrangeiras, além das obras que eram enviadas à
redacção para crítica, permitia aos estudantes, que frequentavam a sede na
Couraça de Lisboa, o acesso a uma riquíssima e actualizada biblioteca que
dificilmente encontrariam noutro local, mesmo na própria Universidade. Era também
um espaço de tertúlia e de debate livre de ideias. É ainda de realçar a sua
intensa acção de apoio social, no meio coimbrão, pondo em prática a Doutrina
Social da Igreja. Porém, nos anos sessenta, sobretudo fruto das chamadas lutas
académicas, o C.A.D.C. atravessou algumas convulsões internas, vindo a
suspender as suas actividades em 1970.
Em 2001, nos dias
17 e 18 de Março, muitos dos antigos membros da velha casa, a que se juntaram
alguns convidados – no total cerca de 450 – participaram num congresso que
pretendia assinalar a data da fundação de este notável centro católico – “ O
CADC na vida da Igreja e da Sociedade portuguesa” – e que foi o ponto de
arranque para a revitalização da instituição que a 8 de Dezembro viu os seus
sócios eleger uma nova direcção e o lançamento do primeiro número da nova série
da revista Estudos.
É o nº 10 de esta
nova série – que abarca os anos de 2008 a 2013 – cuja publicação, por motivos
que agora não colhem, se atrasou, que está aqui presente. Nela participo,
jubilosamente, com dois artigos: O Meu Amigo Chesterton – no qual relato
a minha forte ligação a essa figura inesquecível que urge ler e reler nos
tempos que ora correm – e Cristofobia Contemporânea – breve análise da
campanha anticristã, e sobretudo anticatólica, que o mundo moderno vem
desenvolvendo, praticamente já a céu aberto, através dos meios de comunicação
social e de vários intelectuais. No nosso emblema está a Cruz que muitos nos
querem tirar. Em vão. É que mesmo o que a
insulta é porque a vê ou a tem escondida e tem medo que outros a vejam. Porque
a cruz nunca se esconde. É como a luz que não se apaga. É como o amor que não
fenece.